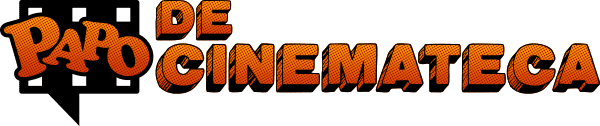Ghibli, IA e o belo domesticado

Nas últimas semanas, as redes sociais foram tomadas por uma nova febre. Fotos de pets, paisagens e selfies transformadas em imagens que imitam o traço inconfundível do Studio Ghibli. Mas o que parece só mais uma brincadeira inocente esconde, como de costume, implicações bem menos encantadoras.
A tendência de converter imagens reais em “versões Ghibli” não se limita ao fascínio pela beleza. Ela escancara o avanço acelerado das inteligências artificiais sobre territórios antes majoritariamente ocupados por profissionais humanos (ilustradores, animadores, designers). O traço, que antes exigia anos de prática, sensibilidade artística e domínio técnico, agora é reduzido a uma função algorítmica, treinada com base em bancos de dados que não respeitam direitos autorais. Nesse ponto, é importante lembrar: nem um centavo do que as empresas responsáveis por essa trend estão lucrando se reverte ao estúdio, e isso vale para qualquer outro estilo que uma inteligência artificial já tenha se apropriado ou ainda venha a se apropriar. A partir daí, surge um primeiro questionamento: se até um grande estúdio como o Ghibli pode ter sua estética reutilizada sem permissão ou retorno, o que dizer do restante dos conteúdos que circulam livremente na internet? Que garantias existem de que a sua, a minha ou qualquer ideia ou criação original, fruto de dedicação e trabalho, não será processada e transformada em insumo genérico por sistemas automatizados?
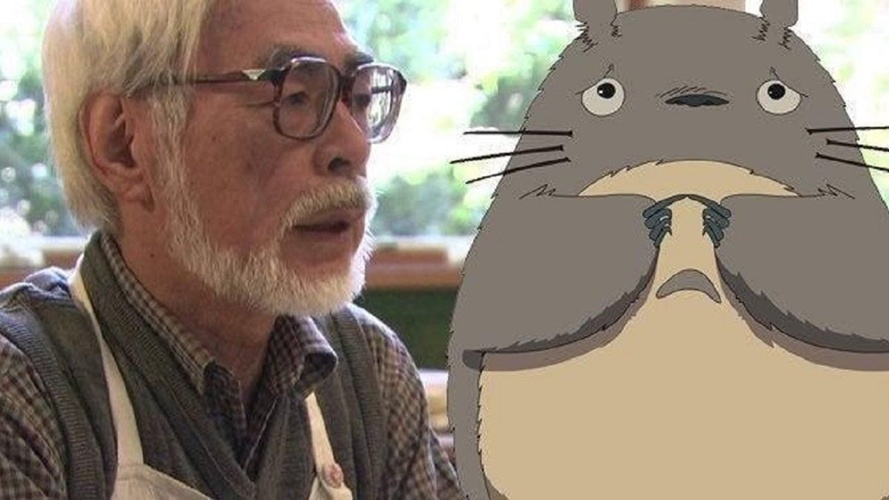
A lógica desses filtros, ao multiplicar em massa uma estética como a de Miyazaki, atua como um mecanismo de reprodução que dissolve o vínculo entre obra e contexto. A popularização desses filtros não apenas esvazia o sentido original da estética “ghibliana”, como também fragiliza ainda mais o mercado de trabalho criativo. Ao consumir e compartilhar essas imagens como se fossem “homenagens”, ou mera “brincadeira”, o público colabora, muitas vezes sem perceber, com um processo de substituição da mão de obra artística por sistemas que operam à margem de qualquer regulamentação ou ética. Esse “belo domesticado” é limpo, fofo e inofensivo, encarnando precisamente essa estética adocicada, que contraria frontalmente os princípios do próprio estúdio Ghibli, cujas obras sempre acolheram a imperfeição, o mistério, a pausa e o desconforto como parte da experiência.
As empresas de tecnologia recorrem ao discurso da “democratização criativa” como defesa, mas esse argumento oculta outra dinâmica de exploração: a da apropriação sem consentimento e da reprodução em massa sem qualquer responsabilidade. O filósofo e crítico cultural Walter Benjamin, em seu ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (1936), reconhecia que os avanços tecnológicos poderiam, em tese, democratizar a arte, torná-la acessível a novos públicos, libertá-la do peso do ritual e inseri-la no cotidiano. Mas no contexto atual, essa promessa emancipada é distorcida. Não se trata de ampliar acesso à formação ou à criação, mas de precarizar o gesto artístico. O filtro não amplia, não democratiza: ele padroniza.
É urgente que a sociedade discuta formas de regulamentar o uso da inteligência artificial no campo artístico. A questão não é rejeitar a tecnologia, mas impedir que ela funcione como instrumento de apagamento cultural, substituição simbólica e fragilização do trabalho. Se nada for feito, seguiremos naturalizando que empresas lucrem com estilos, vozes e visões de mundo construídas com esforço e talento, e isso, como Benjamin já intuía, é o sintoma de uma sociedade que troca experiência por repetição, e arte por ruído visual.